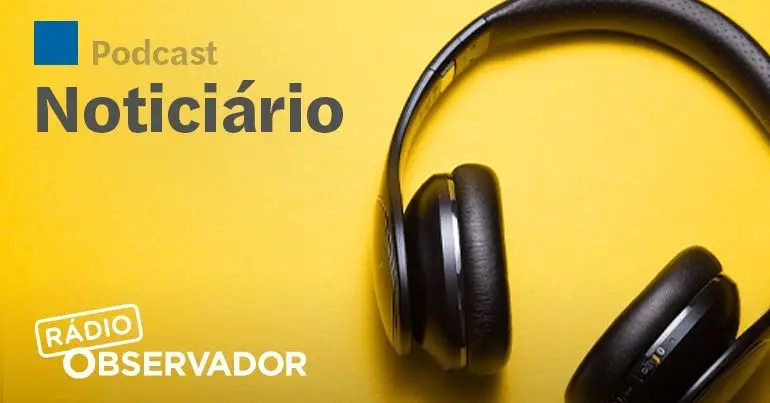Peixes utilizados como "avatares" para testar tratamentos

Tudo acontece no primeiro piso da Fundação Champalimaud, numa ilha e numa bancada no meio de outros projetos em curso, com vista para o jardim tropical entre a clínica e os laboratórios. A investigação envolve uma equipa de 10 pessoas, entre especialistas em cancro da mama e dos ovários e informáticos dedicados ao algoritmo de Inteligência Artificial que também ali está a ser desenvolvido. Rita Fior é quem dá o nome ao laboratório e lidera o projeto “zAvatar”, um estudo dedicado à criação de um modelo que prevê que tipo de tratamento oncológico é mais adequado para o tumor individual de uma pessoa, sem a sujeitar a rondas de terapias “inúteis” e com enormes efeitos secundários.
“O nome do projeto foi dado pelo investigador americano David Langer, que conhecemos também dentro desta área. Na altura, chamavamos-lhe Patient Derived Xenograft [xenoenxerto derivado do paciente, na sua tradução literal], os PDX. Depois, não sei porquê, acho que foi quando saiu o filme [“Avatar“, de James Cameron], começou a falar em avatares”, conta ao Observador a investigadora principal, explicando, ao mesmo tempo, o princípio base da sua experiência — o facto de se testar “num avatar” em vez de na pessoa diretamente. “Temos que vender o peixe, temos que vender a ciência”, continua. Em julho, a equipa recebeu uma bolsa de 100 mil euros da Liga Portuguesa Contra o Cancro — a maior quantia monetária alguma vez atribuída pela organização.
Seja PDX ou zAvatar, o nome não é o mais importante para Rita Fior. O foco, neste momento, é a utilização do embrião do peixe-zebra — que partilha cerca de 70% dos genes com o ser humano — para testar a eficácia dos vários tratamentos oncológicos disponíveis no mercado para pacientes com cancros avançados da mama e nos ovários. O processo em si é relativamente simples na sua teoria, mas a execução é mais complexa do que aparenta. A especialista explica que tudo começa com a recolha de células tumorais dos doentes, em paralelo com a criação destes peixes-zebra numa outra secção da Fundação Champalimaud.
A criação de peixes-zebra e o robot que alimenta os “bebés” quatro vezes por diaPara chegar à “maternidade”, é preciso descer até à “cave” da Fundação Champalimaud, numa área onde os protocolos de acesso são rigorosos. É obrigatório calçar capas para os sapatos, vestir uma bata esterilizada, uma touca para o cabelo, máscaras e luvas. No chão existem marcas que delimitam onde podemos circular com e sem a proteção. Já equipados, seguimos em frente num longo corredor com portas que abrem automaticamente à medida que nos aproximamos, ao nível do mar e em paralelo com o Rio Tejo. Não há janelas, mas vemos, ao longe, uma sala onde se concentram estes animais.
Nas quatro paredes onde se encontram as centenas de tanques, já se pode tirar a máscara da cara, mas todos as outras camadas de proteção mantêm-se para não interferir, de qualquer forma, com as várias experiências que decorrem em simultâneo naquela sala. O nome oficial é biotério, salas onde diferentes tipos de animais são criados para fins científicos, em ambientes extremamente controlados. Neste caso específico, existem cerca de 30 mil peixes-zebra, a única espécie presente nas instalações visitadas pelo Observador. Nas salas vizinhas estão outras espécies marinhas e também ratinhos, que não foram utilizados no estudo em questão.
Todas as condições são controladas. Desde a temperatura e o pH da água, à luz na sala e até a própria condutividade, que está a ser alterada gradualmente para preparar os peixes para as obras que vão acontecer no biotério em agosto. “A obra vai emitir algum som, alguma vibração e, por isso, estamos a antecipar [os seus efeitos], que podem causar algum stress nos animais”, explica a gestora da Plataforma dos Peixes da Fundação, Joana Monteiro, mencionando que os peixes-zebra “têm uma capacidade muito boa de se adaptar a diferentes condições, de forma gradual”, ao contrário dos possíveis patogénicos que se pudessem alojar nos tanques durante este período. Para tal, continua a especialista, misturam ainda alguma água salgada no habitat predominantemente doce dos peixes, que conseguem lidar com a mudança sem qualquer problema.
Existem três ilhas, seis faces preenchidas com estes tanques azuis. Na sua capacidade total, cada um destes pequenos tanques recebe 35 peixes-zebra adultos, mas muitos deles não estão cheios. Na sua generalidade, estes adultos são alimentados manualmente duas vezes por dia à base de uma espécie de crustáceo chamada artémia — salvo alguns casos que, por motivos experimentais, são alimentados em três ou quatro ocasiões no mesmo período de tempo, numa dieta que difere dos seus vizinhos. Na ilha que está no fundo da sala estão as “larvas” recém-chegadas à “maternidade”.
Estas, que se podem distribuir em maiores quantidades pelos tanques, têm também um tratamento diferente dos peixes adultos. Esta fase de crescimento, a passagem de embrião a adulto, demora cerca de três meses. Durante este período, os “bebés” e “crianças” comem quatro vezes ao dia — “duas vezes comida líquida, duas vezes comida em pó —, mas num regime “semi-autónomo”. Ao contrário dos adultos, que são alimentados pelos técnicos da Plataforma, o alimento das “larvas” é administrado por um robot, que lê códigos QR dispostos nos tanques, passando a informação sobre a quantidade de peixes existentes e a comida necessária para os alimentar.
“A ração seca é o que eles comem todos os dias. A manutenção do alimento vivo é bom como enriquecimento ambiental, porque permite manter um instinto de predação natural, o que é bom para os próprios peixes, não só para estarem saudáveis, mas também para manterem respostas neurológicas normais”, esclarece Joana Monteiro, referindo que este “enriquecimento ambiental” também contribui para que os peixes “estejam felizes”.
De acordo com a gestora da Plataforma, “existem cerca de 300 linhas geneticamente modificadas” ao longo das três ilhas que compõem a sala do biotério. “Todos são peixes-zebra”, mas, ao entrar na sala, é possível notar algumas diferenças claras entre os vários peixes: “Uns têm pigmentos às riscas, outros são cor-de-rosa”. As riscas são semelhantes às de uma zebra, daí o nome atribuído a esta espécie. Contudo, alguns foram criados com uma mutação que impede a formação de pigmentos pretos ficando, então, com uma cor uniformizada e sem as riscas que caracterizam o peixe.
Esta diferenciação estética é extremamente importante por diversos motivos experimentais. Muitas vezes tem-se machos de uma cor, fêmeas de outra, ou até mesmo dentro da mesma experiência, em duas linhas celulares diferentes, é utilizada esta alteração dos pigmentos para facilitar a identificação. No processo de reprodução este fenómeno é mais visível, especialmente porque é feita a separação entre machos e fêmeas dentro do mesmo tanque.

▲ Tanque utilizado para promover processo de reprodução dos peixes-zebra, com uma plataforma para reter os ovos postos pelas fêmeas. Na base existe uma imagem de pedras para "enriquecer" procedimento
FRANCISCO ROMÃO PEREIRA/OBSERVADOR
Os peixes são colocados noutros recipientes, que incluem uma divisória — de um lado machos, do outro fêmeas — para os investigadores terem controlo total do processo e saberem exatamente quando é que os ovos são postos. “Quando fica de noite, desligam-se as luzes e não entra ninguém na sala. Só de dia, pelas oito da manhã, é que se volta a acender a luz e, com o estímulo a indicar que já é de dia, então começa o processo [de reprodução]”, explica Joana Monteiro, indicando que é nesta altura que os investigadores começam a monitorizar estes peixes selecionados, para observar o acasalamento. “O macho dá umas pancadinhas com a cauda na zona da barriga da fêmea, e depois liberta os ovos“, continua.
Numa situação normal, é frequente os peixes-zebra comerem alguns dos próprios ovos depois de serem postos pela fêmea. Assim, para combater este estímulo característico da espécie, é colocada uma rede que permite a passagem dos ovos para uma outra divisória que não é acessível aos peixes, garantindo a manutenção integral de todos os descendentes. Cada casal é capaz de produzir entre 100 a 200 ovos de uma só vez — existindo momentos em que conseguem pôr até 500. No fundo destes tanques dedicados à reprodução, utilizam imagens de pedras — à semelhança do seu habitat natural — “como forma de enriquecimento durante os cruzamentos”, apesar de não existirem evidências que “mostrem definitivamente que faz melhor”, mas há “indícios” de que seja favorável.
Para visitar os embriões acabados de nascer, é preciso ir para outra sala, a escassos passos de distância e, como tal, voltar a por a máscara. Esta segunda divisão é composta por duas bancadas, com microscópios de fluorescência e incubadoras — onde estão os embriões. É nesta sala que são feitos “screenings” adicionais para identificar as mudanças genéticas desejadas. É ainda nesta divisão que ficam até se classificaram oficialmente como animais. “Aos cinco dias é quando começam a comer externamente e, também, a idade legal em que passam a ser animais protegidos ao abrigo da lei que protege os vertebrados utilizados em experimentação”, continua a especialista na visita dada ao Observador, explicando que durante este período até passar para a “maternidade”, os peixes vivem da “gema” que têm por baixo da cabeça, que vai diminuindo de tamanho à medida que eles a vão consumindo — até chegar a altura em que conseguem alimentar-se de forma externa.
Regressando ao gabinete com vista para o Tejo da investigadora principal do projeto “zAvatar”, Rita Fior esclarece o porquê de estarem a focar-se em células de doentes de cancro da mama e dos ovários. “Nestes tipos de cancros, há, muitas vezes, a acumulação de líquidos, que têm de ser drenados dos doentes para aliviar os sintomas, mas depois vão para o lixo”, explica a investigadora, acrescentando que “estes líquidos têm muitas células tumorais”. Assim, num esforço para aliviar o número de procedimentos a que o doente é submetido, o grupo de investigação utiliza este “material que já iria ser retirado do doente de qualquer forma”, que se traduz também numa redução de custos de operação — para além das questões éticas.
Retiradas as amostras necessárias, o passo seguinte é a administração do material cancerígeno nas “larvas” ou embriões de peixe-zebra, que assimilam o tumor rapidamente e permitem a observação da evolução do cancro num período muito curto. Desta forma, começam a testar as operações terapêuticas nos peixes. “Outro motivo para utilizarmos este tipo de células tumorais é porque, neste contexto, quando são cancros muito avançados e metastáticos, existem várias opções terapêuticas disponíveis”, menciona Rita Fior, referindo que esses são os cenários que causam maior incerteza nos consultórios clínicos e que, muitas vezes, acabam por sujeitar os doentes a múltiplas rondas de tratamento que não têm o efeito desejado, até acertarem na opção mais indicada.
“Testamos [as opções terapêuticas] que os médicos têm em mãos”, continua, mencionando que assim conseguem, à partida, aliviar o doente de todos os efeitos secundários que são associados às diferentes terapias utilizadas, sem o efeito terapêutico pretendido, sabendo a priori qual será o tratamento mais eficaz para o cancro específico de cada um deles, de forma personalizada.

▲ Rita Fior é a investigadora principal do projeto "zAvatar"
FRANCISCO ROMÃO PEREIRA/OBSERVADOR
Quase que não dá para ver as “larvas” a olho nu. No processo de manipulação das suas células, seja a administração do cancro ou dos tratamentos, os investigadores recorrem a lupas e microscópios ultra-especializados. “Sem imunoflurescência, não os conseguimos ver”, exclama a investigadora Bruna Costa, enquanto tenta explicar ao Observador as imagens no ecrã do computador, que está ligado ao microscópio confocal “low-cost” de cerca de 250 mil euros. Este aparelho tem uma resolução superior a qualquer outro no laboratório — apesar de existirem “outros mais caros no Instituto” —, o que permite chegar a uma resolução “single cell“, células individualizadas, e aferir melhores conclusões sobre o efeito dos tratamentos.
Do outro lado da bancada, onde estão as lupas “mais simples” e com menor resolução, a co-investigadora principal Marta Estrada refere que utilizam umas “placas de agar”, uma “espécie de gelatina” que é utilizada para “alinhar o peixe” e facilitar o processo de administração dos fármacos, uma vez que ficam todos agregados numa só “linha”. Com os olhos na imagem projetada pela lupa de fluorescência que se senta ao lado do “super” microscópio confocal, vê-se ainda o embrião vivo, com o coração a bater.
“Os lasers são tóxicos e, portanto, quando temos um laser muito forte, que incide sobre o peixe durante 10 horas, vai haver toxicidade”, continua a investigadora Marta Estrada, que explica, com que a propriedade dos “spinning disks” — discos rotativos que permitem captar várias imagens em diferentes posições rapidamente — presentes neste “super” microscópio, é possível reduzir significativamente a toxicidade, abrindo a porta a observações “espetaculares”.
“Fazemos vídeos incríveis aqui. Os peixes vivos ficam [sob observação] a noite toda — 10, 12 horas — e nós ficamos a ver como é que o sistema imunitário deles interage com as células tumorais, como é que metastizam, etc. O que não dá para fazer com ratinhos, porque são muito maiores e não são transparentes, como as larvas”, acrescenta. Se tivessem de utilizar murganhos, mais conhecidos como ratinhos de laboratório, este mesmo processo “demoraria meses” e seria mais complexo para acompanhar, obrigando a sucessivas intervenções no animal. Assim, todo este processo dura apenas 10 dias, desde o nascimento dos peixes até à obtenção de um resultado conclusivo sobre qual é o tratamento mais eficaz para o caso particular em análise.
Não é utilizado apenas um embrião por tratamento, explica também a investigadora Raquel Mendes, enquanto retira os peixes de uma lâmina para os voltar a examinar mais tarde. “Utilizamos tudo o que conseguirmos da amostra do paciente, injetamos tudo nos peixes que tivermos”, afirma, referindo que, “durante a terapia, muitos acabam por morrer” e, também, por vezes, durante o processo de administração dos fármacos, não os conseguem “injetar no sítio certo”, acabando por “perder peixes”.
É precisamente por existirem tantas perdas durante o processo que a investigadora realça a necessidade de ter “muitos peixes para dividir em controlos, mais a terapia A, terapia B, terapia C, etc”. Para além de ser importante para garantir pelo menos um resultado conclusivo, Raquel Mendes acrescenta que é melhor ter uma grande quantidade de peixes ao dispor, para provar aos médicos que os resultados obtidos são significativos, tendo uma maior “confiança estatística”.

▲ Marta Estrada é a co-investigadora principal do projeto "zAvatar"
FRANCISCO ROMÃO PEREIRA/OBSERVADOR
Com o elevado potencial que esta metodologia tem vindo a demonstrar, têm sido constantes as colaborações com outras instituições e investigadores dos mais variados países, seja para aprofundar os temas em desenvolvimento, ou simplesmente para “ensinar os truques” a outros laboratórios.
“Temos recebido vários projetos de colaboração, com estudantes que vêm cá aprender”, conta Rita Fior, a líder do projeto. A iniciativa vem de um projeto europeu — que participa no financiamento do estudo —, permitindo que investigadores de um laboratório na Sérvia tivessem viajado até Lisboa para aprender as técnicas empregadas pela equipa da Fundação Champalimaud. “No ano passado, tivemos um curso, de uma semana, onde estiveram oito estudantes do mundo inteiro — veio um da Índia, outro do Chile — e vêm para cá só aprender”, recorda. “Isto tem muitos truques. Parece fácil, mas não é”, acrescenta.
Para além de estudantes internacionais que querem aprender, existe uma forte colaboração inter-institucional. O maior exemplo disto é a pequena subdivisão da equipa que se dedica apenas ao desenvolvimento do algoritmo de inteligência artificial, que tem como principal objetivo diminuir o tempo total do processo, de 10 dias para “cinco ou seis”.
Essa subequipa tem dois elementos: Estibaliz Gómez-de-Mariscal, investigadora espanhola do ITQB, e Martim Gamboa. Aluno de mestrado da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade NOVA de Lisboa, é ele quem faz a ponte entre os laboratórios de Oeiras e da Champalimaud. “O Martim é o nosso informático, é quem está a tratar do IA”, apresenta Rita Fior.
Esta parte do projeto já teve vários inícios, que foram sempre encontrando obstáculos, fosse por impossibilidades pessoais dos especialistas ou pela ineficácia dos próprios algoritmos desenvolvidos. Contudo, este último ano de testes tem sido altamente promissor, tanto que, no dia 20 de junho, recebeu uma bolsa de investigação da Liga Portuguesa Contra o Cancro, no valor de 100 mil euros — o maior valor monetário alguma vez atribuído pela entidade.
“Esta investigação representa um avanço significativo na área da oncologia personalizada, ao conjugar modelos biológicos inovadores com inteligência artificial para acelerar a identificação de terapias eficazes, adaptadas ao perfil de cada doente”, destacava a organização num comunicado enviado às redações, referindo que esta bolsa de “Investigação em Oncologia na Era da Inteligência Artificial” representa um “marco na sua história”, não só pelo valor, mas também pelo objetivo de “apoiar projetos científicos de excelência que aliem a investigação oncológica ao potencial da inteligência artificial para melhorar os cuidados de saúde, o diagnóstico precoce e os tratamentos personalizados”.
Em pouco mais de um ano, o protótipo atual já consegue ter aproximações de cerca de 70% ou 80% à metodologia manual, conta ao Observador Martim Gamboa. Mesmo assim, apesar de anteciparem uma “automatização” da análise dos resultados de “uma forma mais robusta e rápida” com as ferramentas de inteligência artificial desenvolvidas, as responsáveis pelo projeto referem que vai ser sempre necessário um “quality control” humano para garantir que os resultados são fiáveis.
A bolsa tem a duração de dois anos e, com o início dos ensaios clínicos em curso, Rita Fior destaca a importância que os dados obtidos vão ter para o desenvolvimento adicional do algoritmo neste período de tempo.
As questões éticas associadas à utilização destes animais para fins científicosSendo uma peça essencial para o sucesso desta investigação, à margem da explicação do processo experimental, Rita Fior explica que existe uma série de critérios necessários para ter a autorização para utilizar estes animais no contexto científico. A diretriz europeia que regula esta prática foi construída tendo por base “os três R”. Não o tradicional “Reciclar, Renovar e Reutilizar”, mas sim “Substituição, Redução e Refinamento” (“Replacement, Reduction and Refinement”, em inglês).
Desta forma, a União Europeia prevê que, antes de aprovados, os investigadores averiguem se podem “substituir” a utilização de animais nos seus projetos por outros métodos ou abordagens que não o obriguem. Na mesma linha, a redução prevê a utilização do número mínimo possível de animais e, de acordo com o portal ambiental do direito comunitário, por refinamento entende-se a “alteração de quaisquer procedimentos desde o momento em que o animal nasce até à sua morte, para minimizar o seu sofrimento e aumentar o seu bem-estar”.
Esta regulação, que é feita ao mais alto nível europeu, é também tida em atenção a níveis internos, na própria Fundação Champalimaud. “Do ponto de vista de legislação, tudo o que é feito aqui é muito regulado. Todos os investigadores que têm projetos que passam pelo órgão do bem estar animal têm de ser aprovador internamente“, garante Joana Monteiro, a gestora da Plataforma de Peixes do instituto, que coordena, também, a autorização da utilização de animais para fins científicos.
Antes de aprovados, a Plataforma tem o dever de questionar “porque é feito com animais”, “com que objetivo” e “se não dá para avançar o projeto sem o sacrifício animal”. Quando é dada a luz verde interna, a proposta é avançada para a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV), que concede a última autorização ao abrigo dos critérios europeus. Ainda assim, a responsabilidade de garantir que a investigação não foge ao regulamento é da Plataforma gerida internamente. “Há acompanhamentos da parte técnica, mesmo durante o trabalho experimental”, admite Joana Monteiro, referindo que aconselha frequentemente investigadores sobre as melhores práticas com animais em investigação.
A responsável conta ainda ao Observador que nunca teve de rejeitar um projeto neste sentido. “Quanto muito podemos discutir sobre o número de animais, se conseguem reduzir ou usar apenas metade, se conseguem utilizar outra abordagem, mesmo no método experimental”, continua, mas assegura que “os investigadores já têm na consciência” evitar utilizar animais caso não seja mesmo necessário. No caso do projeto “zAvatar”, não havia mesmo outra alternativa e, mesmo assim, Rita Fior, a responsável pelo projeto, garante que todos os passos são feitos com o maior humanismo possível.
“Quando fazemos a injeção [com as células tumorais], os peixes são anestesiados, só [avançam] depois de estarem algum tempo sob o efeito da anestesia. Cuidamos muito bem deles”, garante a investigadora, algo que vai de acordo com as instruções deixadas por Joana Monteiro: “Primeiro tomam um ben-u-ron — na versão de peixes — depois a anestesia e só após estes passos é que se faz o procedimento. E depois ainda voltam a tomar outro analgésico para a recuperação”.
Rita Fior deixa a ressalva de que, tecnicamente, os embriões utilizados no seu laboratório não se classificam como animais, por serem utilizados antes dos cinco dias de vida — que é o patamar exigido pela União Europeia. Apesar deste “espaço cinzento” na diretriz, a investigadora assegura que “independentemente de serem considerados animais ou não”, têm sempre “uma série de cuidados para minimizar o sofrimento” do animal.
observador